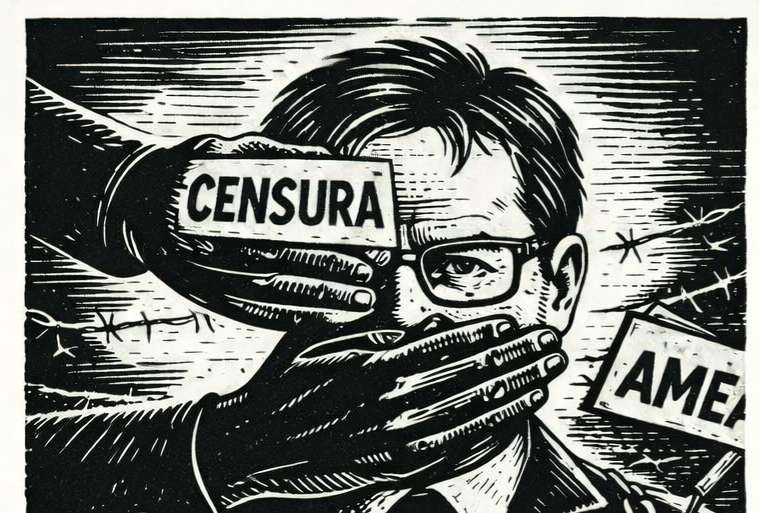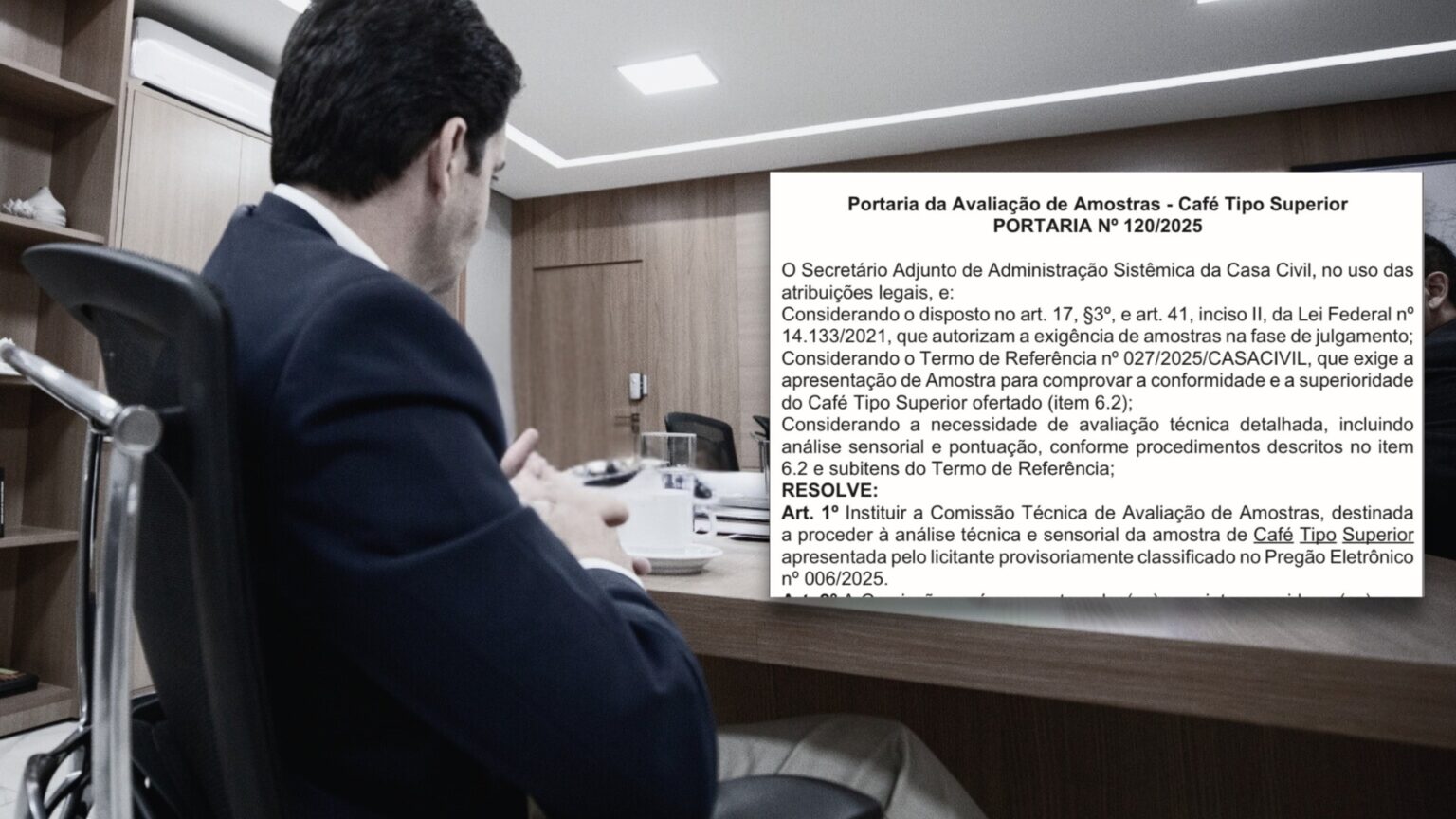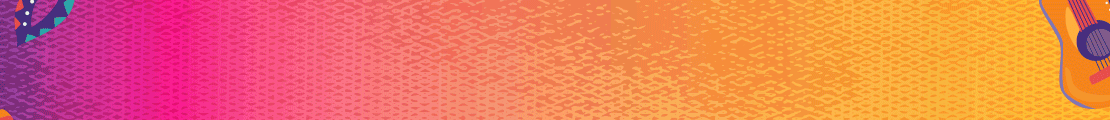

Memórias de uma repórter entre furos, escutas e silêncios

Fátima Lesa*
No lado B da notícia
Com essa história de “ABIN paralela” voltando à tona, me veio à cabeça um aviso da colega de redação Dora Lemes, minha editora, lá nos anos 90:
-Fátima, cuidado com o telefone.
Na hora, não entendi. Perguntei, meio rindo:
-Tá dando choque?
Tempo em que jornalistas – os mesmos que hoje são rotulados de “esquerdistas” ou “comunistas” – precisavam medir as palavras ao telefone. Celular? Celular era sonho de consumo.
Hoje, caio na risada só de lembrar da cena. Não consigo parar de rir e quase não consigo continuar este artigo.
Na época, eu estava mergulhada numa série de reportagens sobre um esquema de corrupção descoberto entre o sexto andar do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura, onde ficava a Secretaria de Comunicação, e o quarto andar, a Secretaria de Finanças. O golpe envolvia dívidas milionárias de IPTU. Um conluio descarado entre empresários grandes devedores e servidores públicos municipais.
A rede de computadores ainda era incipiente, mas a lógica contábil não falhava. A chefia da Procuradoria não teve dúvida e sem alarde, sem alimentar o denuncismo, convocou dois ou três servidores de confiança e iniciou, silenciosamente, uma investigação interna.
Foi nessa época, com o alerta da Dora sobre o uso do telefone, que uma lembrança antiga me voltou com força. Nos tempos em que eu ainda era foca, como se dizia na gíria das redações, iniciando minha vida de repórter no jornal O Imparcial, em São Luís.
Meados dos anos 1980. A ditadura ainda dava seus últimos suspiros, embora uma brisa de democracia começasse a soprar – uma esperança que já se via lá no fim do túnel. Ou melhor, uma chama oscilante, mas teimosa, acesa pelas Diretas Já, pelas greves, pelas marchas que tomavam as ruas.
Lembro do editor-chefe, o Gojoba, dando um recado seco, direto:
-Atenção com o que falam ao telefone. Tem escuta.
Celular? Nem se sonhava. O que funcionava mesmo era o telefone fixo – daqueles de disco, analógico, com o ruído arrastado entre os números. Pretinho ou meio cinza, de mesa. A mesa, aliás, quase sempre entulhada de papéis, onde o repórter digitava seu texto na máquina de datilografia.
Eu, que ainda engatinhava no jornalismo e sonhava em melhorar o mundo com uma matéria bem escrita, arregalei os olhos. Tinha algo de filme, algo de perigo real. Mas ali não era cinema, era o Brasil. E não eram teorias conspiratórias. Era prática institucional.
Só que naquela época, a gente não chamava de “ABIN paralela”. Nem se falava de Estado Democrático de Direito violado. O que existia mesmo era medo e silêncio.
Décadas depois, lá estava eu, de novo às voltas com telefones que pareciam ter ouvidos. Era impossível não sentir um arrepio toda vez que alguém dizia:
– Melhor a gente conversar pessoalmente.
Eu já sabia o que isso significava, tinha coisa grande vindo.
De volta à cena do esquema na Prefeitura de Cuiabá.
Aos poucos, a investigação interna da Procuradoria foi revelando que o golpe era mais estruturado do que se pensava. E tudo acontecia num computador do sexto andar, entre os corredores silenciosos, na penumbra da noite.
O que eu não esperava era o desdobramento imediato. O chefe do sexto andar, ao ler as primeiras matérias, ligou para o dono do jornal. Pediu minha cabeça. Simples assim.
-Quem é essa Fátima? quis saber.
-De onde veio?
-Veio do Maranhão, alguém respondeu. Ponto final.
Eu ainda era nova na cidade, recém-chegada, começando a entender o ritmo e os jeitos locais. A editora-chefe, pressionada, se negou a me demitir, não por falta de pressão, mas por confiar no meu trabalho. Ela não cedeu. E isso, até hoje, guardo com gratidão.
Na época, eu não sabia de nada do que rolava naquela sala que a gente chamava de “aquário da chefia”. E isso me deu tranquilidade para escrever. Só soube dessa história dez anos depois.
No dia da primeira matéria denunciando o esquema, o Palácio Alencastro ficou lotado de jornalistas. Imagina a cena. O jornal concorrente na tentativa de negar o furo, quis desmentir, mas cada movimento deles me empurrava pra frente. A cada publicação, eu ganhava mais clareza, mais fontes, mais detalhes. Era como se, sem querer, estivessem me ajudando a cavar mais fundo.
O secretário envolvido até me convidou para um café – quem sabe uma conversa, uma tentativa de amenizar. Eu, na maior inocência (e também na maior correria), recusei com a desculpa mais honesta do mundo.
– Não vai dar. Saindo daqui tô indo buscar meus filhos na escola. Depois direto pra casa.
Ufa. Mal sabia eu o tipo de “café” que poderia ter sido aquele.
Mas o que me dava segurança – e talvez com uma pontinha de teimosia maranhense – era que eu tinha em mãos a íntegra do material da investigação. Recebido num encontro improvável, sem ter sido marcado, no elevador do Palácio Alencastro. Aquele elevador de autoridades, onde cabia de tudo – do silêncio cúmplice ao sopro de verdade.
Não era a primeira vez. Antes daquela série sobre o esquema na prefeitura, eu já havia contado outras histórias. Mas essas ficam pra outro dia.
Porque hoje, o que me atravessa é essa lembrança insistente dos telefones vigiados, os sussurros nas redações, os avisos que vinham como enigmas, “cuidado com o telefone”, e que só muito depois a gente entendia. Não era paranoia. Não era invenção. Era o Brasil, ainda que muitos insistam em tratá-lo como ficção.
Hoje, com escutas digitais, algoritmos curiosos e agências paralelas fazendo hora extra, a tecnologia parece ter sofisticado a bisbilhotagem. Mas a sensação, no fundo, continua a mesma, o fio da linha pode estar cortado, mas alguém ainda escuta.
E eu, que comecei achando que o telefone estava dando choque, sigo aqui – conectada, atenta, rindo sozinha das memórias e escrevendo para contar o que nem sempre vira manchete, mas que merece ser ouvido e lido por aí.
Fátima Lessa* é jornalista e mestra em política social. Trabalhou na imprensa de São Luís, cobrindo Cidades no jornal O Imparcial e O Estado do Maranhão. Também atuou no jornal A Gazeta e no extinto jornal Nosso Tempo, em Foz do Iguaçu (PR), nas Três Fronteiras: Brasil-Paraguai-Argentina. Folha do Estado e A Gazeta, em Cuiabá. Atua como freelancer no jornal O Estado de S. Paulo. Já trabalhou na Folha de S. Paulo.
Em nossa seção de artigos do eh fonte destacamos opiniões de leitores, selecionadas por nossa equipe editorial para assegurar qualidade e pluralidade. Os artigos refletem as visões dos autores, não a posição oficial do eh fonte. Nosso propósito é incentivar discussões e debates, oferecendo um espaço para diferentes vozes, tendências e ideias.
Compartilhe
Assine o eh fonte
Tudo o que é essencial para estar bem-informado, de forma objetiva, concisa e confiável.
Comece agora mesmo sua assinatura básica e gratuita: