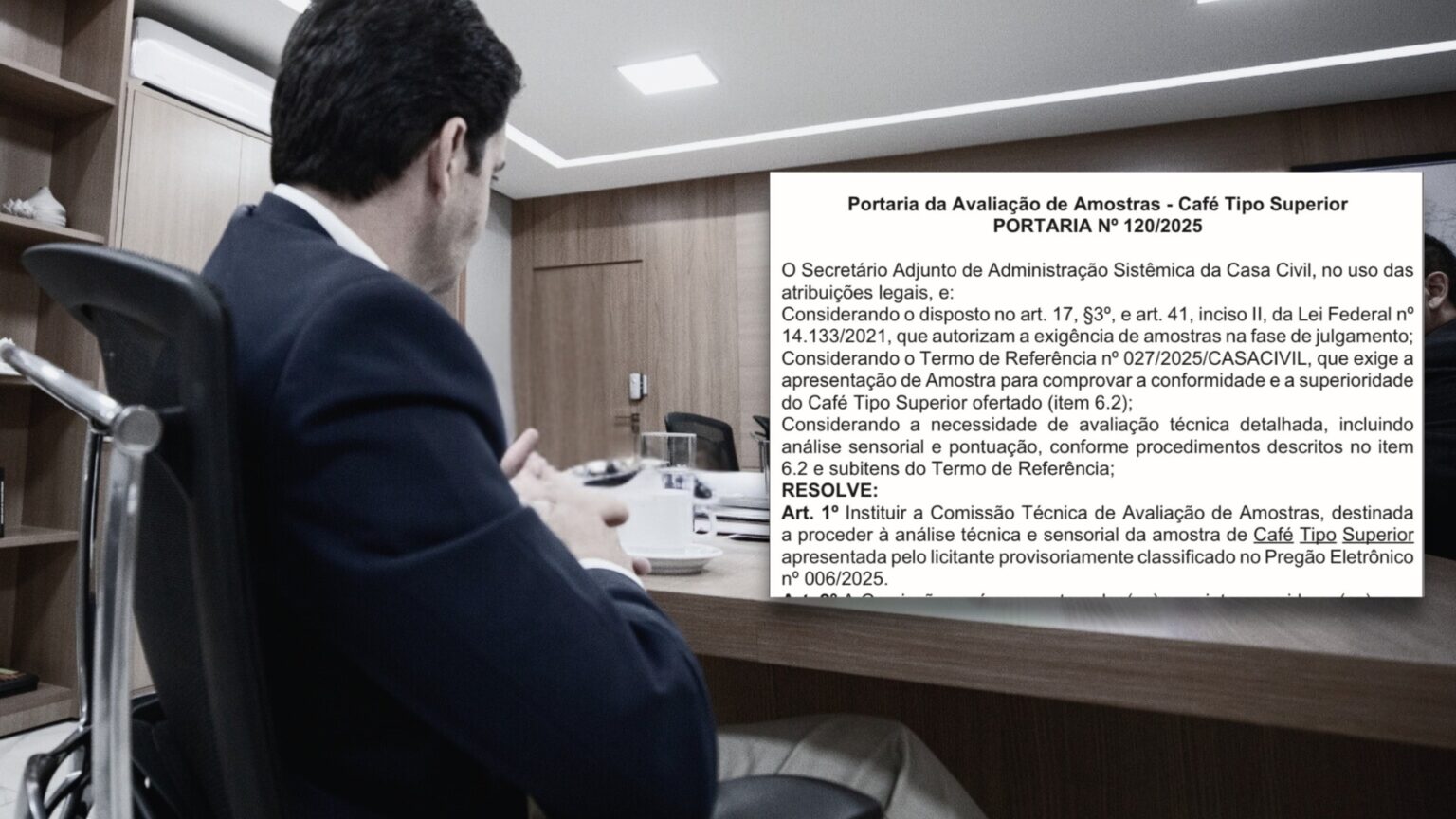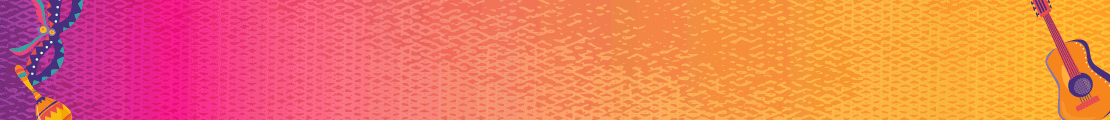

“Ainda estou aqui” chacoalha nossa memória

Foto: Divulgação
Como já comentei nesta coluna do eh fonte, a política nunca foi o meu forte profissionalmente falando. Sempre esteve fora do meu radar de interesse, preferia (e ainda prefiro) no jornalismo fazer reportagens da rua – ou da área social, por exemplo – que coberturas de assuntos políticos.
Não tenho paciência para o blá-blá-blá de seus representantes nem habilidade para construir textos usando declarações a respeito das articulações e dos bastidores desse campo.
Mas a ‘danada’ permeia minha vida por mais que fuja dela. Lembro de um comício de Jânio Quadros (UDN) na campanha presidencial, no centro de Cuiabá, do lado da então Catedral (a que foi demolida), que aconteceu quando eu tinha sete anos de idade.
Com 11 anos ouvia pelo rádio a movimentação do golpe de 64, sem clareza alguma do que se tratava. Só percebia que o assunto interessava à família.
Aos 12, segundo recordo, colava cartazes, na fachada de casa, no bairro Mundéu, de Lúdio Coelho (UDN) que disputou e perdeu, em 1965, o governo de Mato Grosso para Pedro Pedrossian (PSD).
Meu pai Álvaro era o udenista que pilotava a política em casa. Naquela época ele foi vereador por dois mandatos na Câmara de Cuiabá pelo partido. Também foi um apoiador da revolução de 64.
Saltando para 1970, eis que me vejo no primeiro dia de aula do 3º ano científico do Colégio Elefante Branco, em Brasília, recebendo do colega da carteira da frente, de forma disfarçada, um punhado de papel, com o seguinte comando: “pega um e passa o resto para trás”.
Assim o fiz. Quanto pude ler, os dizeres do papel chamavam o então presidente Médici de “carrasco azul médici” e listava denúncias contra o governo militar.
Esse episódio, aos 17 anos, me reapresentou à política brasileira, naquele momento no formato de 1970, ainda que bem embalada pela alegria do tricampeonato conquistado pelo Brasil no ano.
Na sequência fui, bem devagar mesmo, já muito favorecida pelas leituras e estudos que o curso de jornalismo no qual havia ingressado me proporcionou, compreendendo a ditadura militar instalada no país.
O desaparecimento de Rubens Paiva – ex-deputado, cassado em 1964 pelo regime militar – ocorreu em 1971, no começo da minha graduação superior. Porém não me lembro de conversas sobre o fato nem da reverberação disso em sala de aula. Mesmo porque a censura e o endurecimento do regime, na época, não permitiam tal debate na faculdade.
Além disso, me mantive distante do movimento estudantil, muito forte no Brasil nos chamados ‘anos de chumbo’ (sob o AI-5 e a Lei de Segurança Nacional de 1969). Minha participação se limitou mesmo àquele episódio isolado do ensino médio.
A etapa final da materialização dessa realidade política, ou melhor, quando ‘caiu a ficha’ para mim que a situação era braba mesmo, se deu a partir de 1974, quando comecei a exercer profissionalmente o jornalismo, em Brasília. Foram muitas as situações denunciadas, e noticiadas quando possível.
Assistir ao filme “Ainda estou aqui” me fez refletir sobre qual teria sido a mágica que fez eu atravessar esse tempo de insegurança política trabalhando em jornais. Talvez o fato de eu ‘fugir’ da cobertura da política possa ter ajudado. Pendi mais para os setores técnicos e sociais.
De forma breve, aos que ainda não o viram, o filme é baseado em livro escrito por Marcelo Rubens Paiva sobre a vida de sua mãe, Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, engenheiro e ex-político brasileiro desaparecido durante a ditadura militar.
A atuação de Fernanda Torres como Eunice é impecável e a trama muito impactante, pois mostra, no pior sentido, o que parcela da sociedade sentiu e viveu durante o regime – o medo, o conviver ‘pisando em ovos’, com aquela insegurança velada pairando no ar o tempo todo. Pelo menos para mim, como jornalista, foi assim aquela fase profissional. Não foi fácil, deixou sequelas.
Além da questão política, que particularmente me despertou mais lembranças no filme, “Ainda estou aqui” permite a revisitação às coisas antigas, tradicionais, a partir de seus elementos, como as músicas, o toca-discos e as capas dos discos de vinil.
Ver o uso, pela família Paiva, da câmera e do projetor de filmes super 8 e identificar, no meio dos pertences da casa, os pequenos estojos redondos, da cor amarela da Kodak, protegendo os rolos dos filminhos mudos de 3 minutos me emocionou demais.
Meu marido José Luiz fez muitos filmes super 8 da nossa família. Tenho-os guardados em casa, sempre estou à procura de projetor desse tipo para revê-los e não encontro.
Pensando nele, em José (na eternidade já), fico imaginando as impressões que ele teria ao ver o filme. Acho que entenderia as reflexões que fiz, pois, além de acompanhar toda minha trajetória profissional, vivenciamos juntos os acontecimentos políticos do Brasil por 50 anos ou mais.
Pois como diz nosso amigo Nelson – “quem tem memória, ou pesquisa a história, sabe quanto custa promover mudanças na direção da democracia e do bem-estar social”.
E é desolador ver que há muitos, entre nós, na atualidade, defensores de pessoas e de atos que causaram mazelas e atrocidades, como a da família Paiva, naqueles sombrios tempos da ditadura.
*Os textos das colunas e dos artigos são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião do eh fonte.
Compartilhe
Assine o eh fonte
Tudo o que é essencial para estar bem-informado, de forma objetiva, concisa e confiável.
Comece agora mesmo sua assinatura básica e gratuita: